A explosão de pesquisas com amostras arqueológicas de DNA humano tem potencial para revolucionar o que sabemos sobre a história profunda da nossa espécie, mas esse tipo de investigação precisa de diretrizes éticas globais, afirma um grupo internacional de pesquisadores em artigo num dos principais periódicos científicos do planeta.
O manifesto sobre o tema, que é assinado pela bioarqueóloga brasileira Mercedes Okumura, do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP (Universidade de São Paulo) acaba de ser publicado na revista especializada Nature.
A iniciativa que resultou no artigo é coordenada por David Reich, da Universidade Harvard (EUA), um dos principais estudiosos de genomas antigos da espécie humana -a pesquisadora da USP está trabalhando no laboratório de Reich num projeto conjunto até fevereiro de 2022.
Leia mais:
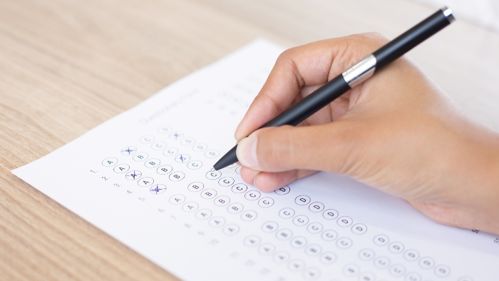
Prefeitura de Londrina promove 'live' com tira-dúvidas sobre concurso público na segunda

UEL: Prazo para transferência externa se encerra em 1º de abril

Onda de calor de março no Brasil foi intensificada pelas mudanças climáticas, aponta estudo

UEL tem quase 1 mil vagas remanescentes; universidades do PR somam quase 9 mil oportunidades
"Algumas coisas que a gente propõe podem parecer óbvias, mas elas precisam ser discutidas de uma maneira que não signifique simplesmente seguir o modelo americano de enfrentar esse problema no mundo todo", explicou Okumura à Folha em entrevista por videoconferência.
Ela conta que os debates para a elaboração da proposta aconteceram num workshop virtual realizado em novembro de 2020, que reuniu mais de 60 especialistas de 30 países. "Foi aquela coisa engraçada, com inúmeros sotaques diferentes e o pessoal da Austrália e do Japão participando às 4h da manhã do horário deles", lembra.
A discussão pode parecer bizantina à primeira vista, mas ela é uma resposta ao aumento vertiginoso de dados sobre o DNA dos ancestrais da humanidade nas últimas décadas. Enquanto em 2009 ninguém havia obtido informações detalhadas sobre o genoma de nenhum ser humano antigo, hoje já estão disponíveis dados sobre mais de 6.000 desses indivíduos, alguns dos quais viveram há dezenas de milhares de anos.
Garimpar essa montanha de DNA tem potencial para revolucionar o que sabemos sobre a saga da nossa espécie desde suas origens africanas. Mas o avanço tecnológico no sequenciamento (grosso modo, "soletração") dos genomas antigos também pode levar a interpretações preconceituosas sobre as origens e a natureza de etnias indígenas, por exemplo.
E há ainda o risco dos usos políticos de tais informações, que podem ser usadas para negar o direito de populações tradicionais a suas terras por uma suposta falta de continuidade com habitantes antigos delas, entre outras coisas.
"Esse diálogo com as pessoas que podem ser diretamente afetadas pela publicação dos dados é fundamental. Além disso, às vezes também falta o diálogo com especialistas de outras áreas, além da genômica", diz Okumura. "É comum que a gente veja publicações usando apenas o DNA que dizem 'pronto, agora revelamos todo o passado desses povos', sem levar em conta devidamente o que o trabalho de arqueólogos ou de outras disciplinas."
O resultado do encontro foi um conjunto de cinco diretrizes gerais, detalhadas no texto publicado na Nature:
respeito tanto às normas dos países onde as amostras de DNA foram obtidas quanto às vigentes nos lugares de origem dos pesquisadores; a preparação de um plano detalhado antes dos estudos propriamente ditos, levando em conta como produzir e comunicar aquele conhecimento e que impactos ele pode ter; minimização dos danos aos restos mortais humanos estudados (já que fragmentos de osso muitas vezes precisam ser destruídos para extrair o DNA); disponibilização dos dados para que outros cientistas possam examiná-los de forma crítica; contatar pessoas e grupos que podem ser afetados pela pesquisa desde o início dos projetos, respeitando os pontos de vista deles. Este último ponto é especialmente crítico porque, dependendo do país, comunidades indígenas e tradicionais podem ter o direito de controlar o acesso a restos mortais com milhares de anos, requisitar o retorno das amostras às suas regiões de origem e mesmo a realização de rituais funerários com elas. Nos Estados Unidos, esse processo é regulado pela legislação conhecida como Nagpra (Ato de Proteção e Repatriação dos Túmulos de Nativos Americanos, na sigla inglesa).
"A situação é muito distinta no Brasil porque o material arqueológico, mesmo quando estamos falando de restos humanos, é considerado bem da União. O envolvimento das comunidades indígenas com esse tipo de pesquisa aqui necessariamente vai ser muito diferente", explica a bioarqueóloga.
Além dos povos nativos, é preciso pensar também em comunicar os resultados desse tipo de pesquisa aos moradores dos locais onde esqueletos humanos foram encontrados, mesmo que essas pessoas sejam de outras origens étnicas, e também dar apoio aos museus locais que muitas vezes abrigam esse patrimônio.
Alguns trabalhos pioneiros com essa abordagem já foram feitos no Brasil, e os dados de DNA antigo dos primeiros habitantes devem crescer consideravelmente graças à estadia de Okumura no laboratório de Harvard. Ela está trabalhando com uma grande amostra de pessoas sepultadas nos sambaquis (monumentos funerários feitos com conchas e outros objetos na costa brasileira, mais ou menos entre 4.000 e 2.000 anos atrás), bem como de algumas outras regiões do país.