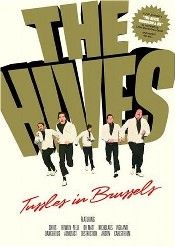Gene Simmons, baixista e vocalista do Kiss, disse certa vez que rock era coisa de macho. "O termo ‘rock’n roll’ era uma gíria dos bluesmen para descrever o ato sexual. Por aí você já vê que rock não é para mulheres", afirmou. Simmons não podia estar mais errado. Se a combinação de progesterona e amplificadores fosse reprimida, o mundo não teria Patti Smith, PJ Harvey, Liz Phair, Meg White, Kim Deal, entre tantas outras.
O chamado rock alternativo em especial é pródigo em acolher mulheres dispostas a despejar suas angústias num compasso 4 por 4. A americana Amanda Palmer, a inglesa Liela Moss e a islandesa Björk experimentam atualmente níveis de popularidade distintos entre a patota indie. Amanda começa a ser incensada, Liela tem potencial para isso e Björk já perdeu o trem. Não é difícil entender por quê. Amanda é brilhante, Liela pode vir a ser e Björk deixou de ser.
Amanda é o cérebro por trás dos Dresden Dolls, saudados como a banda mais excêntrica a sair de Boston desde que os Pixies mudaram o rock. No caso, a sonoridade da dupla – o outro integrante é o baterista Brian Viglione – não tem nada a ver com o morde-assopra genial de Black Francis: os Dolls valem-se quase que exclusivamente de piano e bateria para tecer canções inspiradas no cabaré germânico (Marlene Dietrich, Kurt Weill), em composições com mudanças bruscas de andamento, melodias épicas e drama com pitadas de ironia. Trata-se, claro, de receita de potencial comercial duvidoso: os moleques que enchem os bolsos de Linkin Park e Charlie Brown Jr não têm a menor idéia do que foi a República de Weimar.
O álbum de estréia da banda, lançado no primeiro semestre nos Estados Unidos pelo selo 8 Foot e que leva apenas o nome da dupla, mescla as referências germânicas a punk rock, instabilidade aparentada à das riot grrrls e ao mix de angústia e ar blasé que é imperativo nos rincões indies. As canções de Amanda têm qualidade impressionante para um primeiro disco: irônicas ("Coin-Operated Boy"), viscerais ("Girl Anachronism"), melancólicas ("Slide") ou teatrais ("Good Day", "Half Jack"), todas funcionam maravilhosamente bem.
O grande momento é "Bad Habit", ao mesmo tempo vibrante e dilacerada, irônica e sentida, com uma melodia impecável e dinâmica empolgante escorando uma letra sublime sobre auto-destruição: "quando eu abro uma cicatriz familiar/ a dor surge como uma estrela cadente/ até agora o conforto não deixou de aparecer/ você pode dizer que é auto-indulgente/ pode dizer que é auto-destrutivo/ mas, veja, é mais produtivo/ do que seria se eu fosse saudável (...)/ quando eu enfio um objeto afiado em mim mesma/ corais de anjos parecem cantar". Antológico é apelido.
Perto de Amanda, qualquer outra novata se apequena, mas sejamos generosos com Liela Moss. Ela é vocalista de uma banda promissora, Duke Spirit, oriunda de Londres e que tem no currículo apenas dois singles e um EP ("Roll, Spirit, Roll"). O álbum de estréia do quinteto deve chegar às lojas inglesas este mês, pelo selo Loog Records. Embora a lista de músicas do trabalho ainda não tenha sido divulgada, pelo material nos disquinhos já lançados dá para notar facilmente quais são as taras do Duke Spirit.
A banda é fiel seguidora do Velvet Underground, mas, ao contrário de muitos discípulos da turma de Lou Reed e John Cale (como uma dupla tão adepta da sacanagem pode ter inspirado gente tão assexuada quanto My Bloody Valentine e Galaxie 500?), parece gostar de sexo. Enquanto faixas mais calminhas ou climáticas como "Selt The Stings", "Red Weather" e "Drinking You In" (esta com uma avalanche de barulho no meio) lembram a sensualidade gélida das canções do Velvet cantadas por Nico – embora o timbre da voz de Liela seja bem diferente -, números mais abrasivos como "Dark Is Light Enough" e "Howling Self" remetem ao primitivismo dos primeiros rocks escritos por Reed. Vale esperar.
Quanto a Björk... Muitos resenhistas têm manifestado surpresa com o fato de que "Medúlla" (Universal), novo disco da cantora, é estruturado praticamente apenas em vozes: cordas vocais simulam arranjos de cordas e baterias (a insuportável técnica do beatbox), constroem harmonias. Em uma ou outra faixa, uma batida eletrônica ou um piano vem perverter o conceito. Mas a idéia não é lá grande coisa: afinal, os discos anteriores de Björk já investiam no minimalismo, com arranjos delicados apenas sustentando os devaneios sempre em primeiro plano do gogó da cantora.
Que estão especialmente irritantes em "Medúlla": quando não recorre à tortura pura ("Öll Birtan", "Ancestors"), o repertório é apenas insosso. Como sabemos nós, brasileiros, que estamos acostumados a suportar as divas da MPB, malabarismos vocais geralmente servem para esconder a precariedade de melodias e letras.
Há muitos convidados – Mike Patton, Rahzel, rapper do The Roots, Robert Wyatt, corais de Londres e da Islândia -, mas estão todos discretos, de forma que não interferem no exercício de egocentrismo em que se transforma o álbum. O único momento a quebrar o torpor é "Where Is The Line", com um beatbox que funciona porque é adulterado a ponto de não parecer um beatbox, assobios e vocalizações preciosas ao fundo. É pouco. Björk há muito entrou para o clube dos chatos.